“As questões sociais foram uma almofada para a criação e desenvolvimento do rap feito em Portugal”
Soraia Simões é investigadora do Instituto de História Contemporânea, com pós-graduação em Estudos de Música Popular e Mestranda em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Depois de ter trabalhado no projeto Mural Sonoro, Soraia Simões editou no mês passado — com a chancela da Caleidoscópio — um audiolivro em que reflete sobre o impacto social e cultural do rap e da cultura hip hop em Portugal entre 1986 e 1996. RAPublicar: A micro-história que fez história numa Lisboa adiada é o livro de Soraia Simões que traça o percurso da génese do rap em Portugal. Primeiro de uma forma escrita, em que é enquadrado e contextualizado o período histórico em que nasce o movimento — desde a entrada na Comunidade Económica Europeia (CEE), passando pelo fluxo migratório da década de 1980 ou os movimentos de extrema direita — até aos discursos na primeira pessoa. É nessa altura em que este RAPublicar… se transforma num audiolivro com cerca de 18 horas entrevistas feitas pela investigadora entre 2012 e 2016 a nomes como Chullage, a General D, Lince, NBC, João Gomes, Ithaka, Ace (Mind Da Gap), o realizador Edgar Pêra ou o radialista José Mariño.
RAPublicar: A micro-história que fez história numa Lisboa adiada é um segundo capítulo do projeto Mural Sonoro?
Não, mas pode dizer-se que vem na esteira do trabalho que tenho desenvolvido no Mural Sonoro, uma vez que é um arquivo multimédia que na base tem história oral: ou seja, o Mural Sonoro fala da música que foi feita em Portugal na última metade do século XX, nos vários domínios sonoro-musicais. Partiu dessa ideia de recolher os testemunhos vivos, cruzá-los com as principais alíneas dos estudos das ciências musicais e da história contemporânea, cruzar protagonistas e perceber como é que se envolveram com as transformações. E o rap vem nessa esteira: o meu projeto Mural Sonoro começa na passagem da década de 1950 para a década de 1960 e termina na passagem da de 1980 para a de 1990.
Como é que se dá a passagem para este livro?
O projeto já tinha começado em 2011. Como o Mural Sonoro aborda estes vários domínios musicais eu já tinha entrevistado rappers e havia questões que eram sempre muito predominantes de cada vez que estava com eles: as questões de território, as relações que tinham com Lisboa — já que naquela altura viviam afastados do centro — as relações económico-sociais, político-culturais, a relação com o resto da indústria da música — que não estava preparada para este género, para a forma como se cantava, como se tocava com máquinas… Além do modelo sonoro-musical, havia as problemáticas que eles levantaram e que senti que eram as mesmas que hoje estamos a discutir na sociedade portuguesa: o nosso papel na Europa — na altura a CEE — continuamos a discutir a imigração; o papel do outro na sociedade, o corpo negro na sociedade, o papel da mulher em práticas que são dominadas pelo universo masculino.
“Estes rappers e produtores foram atores de um conjunto de novas ideias que entram na cidade, na sociedade portuguesa, e põem-nos a falar sobre isso: o racismo, a exclusão social… as expectativas deles eram ter um lugar no espaço da cultura popular como tinha, por exemplo, o pop rock”
Normalmente as questões sociais têm sempre uma forte influência na criação de cultura — de música, neste caso. Nesta década — fim de 1980 e início de 1990 — estes temas voltaram a ter esse papel no surgimento deste género, do rap português.
Essas questões sociais foram uma almofada para a criação e desenvolvimento do rap feito em Portugal. E para a repercussão, numa fase inicial, que vão ter em Lisboa. O livro começa com a tal entrada na Comunidade Económica Europeia, e há dois aspetos associados: a quantidade de dinheiro que entra em Portugal e uma vaga de imigração que vem, sobretudo, de Angola, Cabo Verde e Brasil. Há um outro aspeto que acresce a esse: o facto de haver uma pequena franja, mas com alguma atuação de extrema direita que cresce, face a este cenário. E estamos no período cavaquista, com um modelo de crescimento económico implementado durante esta fase.
E há um capítulo neste livro dedicado a esse período cavaquista.
E neste cenário gritante, o rap acaba por ter expressão. Quando digo que foi uma almofada para a criação e desenvolvimento do rap feito em Portugal é porque houve uma espécie de alimentação mútua. Entre aquilo que são as aspirações da cidade de Lisboa e das aspirações deste conjunto de pessoas que crescem à margem da indústria, do capitalismo, à margem das decisões organizacionais da cidade, que crescem com o racismo, com a exclusão social e desigualdades económicas.
“O meu objetivo era mesmo editar história oral: para as pessoas terem consciência do discurso destes protagonistas, mas também de um investigador no campo: como é que se relaciona com estes agentes. Se fosse escrito, ia soar diferente. Mesmo que transcrevas um jargão, nunca se transcreve um sotaque ou uma ânsia. Uma angústia. Uma desilusão”
E eram expectativas diferentes: as da cidade e as deste conjunto de pessoas que fizeram nascer o rap.
As expectativas deste conjunto de pessoas era, sobretudo, ter um espaço na sociedade portuguesa. Falo de Lisboa porque era onde se gravava — o estúdio não estava no computador, como está hoje em dia. Eu falo numa Lisboa adiada porque estes rappers e produtores foram atores de um conjunto de novas ideias que entram na cidade, na sociedade portuguesa, e põem-nos a falar sobre isso: o racismo, a exclusão social… as expectativas deles eram ter um lugar no espaço da cultura popular como tinha, por exemplo, o pop rock. Mas não descurando aquilo que era a linguagem intrínseca: o cuspir rimas, as temáticas do território, representarem também as angústias dos pais — o General D fala muito da experiência colonial. Por exemplo, “PortuKKKal É Um Erro”: fala das desigualdades económicas, em que o negro é sempre visto da mesma forma num sistema em que está sempre a produzir, mas o outro é que recebe.
E essa é a génese de um estilo que é muito, muito português. Se calhar o rock ‘n’ roll foi buscar muitas identificações e colou-se àquilo que vinha de fora — até pelo cantar em inglês. O chamado hip hop tuga tem uma forte identificação territorial portuguesa. Ainda que inspirado num modelo anglo-americano, de início, mas a conseguir ter um cunho próprio muito forte. É culpa do contexto social em que se envolveu?
É sobretudo isso, sim. Às vezes fala-se de uma coisa de mimese — no início, porque não havia referências de rap em Portugal. E as referências vêm de um primeiro programa que aparece em Portugal, apresentado pelo João Vaz no Correio da Manhã Rádio — o Mercado Negro, que passava todas as bandas que se tornaram referência: os Public Enemy, os Last Poets, os De La Soul… mas ao mesmo tempo, alguns tinham parabólica e viam o Yo MTV Raps, apresentado pelo Will Smith. E quando começam a ouvir, percebem que aquelas pessoas estavam a retratar a mesma realidade que viviam nas periferias de Lisboa. E não nos esqueçamos que muitos destes jovens tinham famílias a viver nos EUA — a imigração cabo-verdiana é muito forte na Holanda e nos EUA. Não é à toa que uma parte tenha começado a rappar em inglês também. Mas rápido se percebem que têm de contrariar o capital americano quando começam a usar o crioulo, expressões em quimbundo, a gíria dos bairros… mas quando gravam já estão a gravar em português. Torna-se algo mais territorial e identitário.
Neste livro temos entrevistas transcritas do Francisco Rebelo, do Hernâni Miguel, Biggy, ZJ/Zuka e depois uma parte oral. Este RAPublicar: A micro-história que fez história numa Lisboa adiada torna-se um audiolivro.
Sim, essas foram transcritas e repescadas do Mural Sonoro com alguns atores que estiveram no rap, mas não só no rap, como o caso do Francisco Rebelo. O meu objetivo era mesmo editar história oral: para as pessoas terem consciência do discurso destes protagonistas, mas também de um investigador no campo: como é que se relaciona com estes agentes.
“Eu falo, sobretudo, da história na cidade de Lisboa nesse período. E este movimento acaba por ser um agente de transformação da forma como hoje olhamos para a cidade: eles foram os primeiros a levantar isso numa prática musical que tem um alcance nas comunidades jovens”
Ia ser muito diferente se fosse escrito? Ia “soar” diferente?
Ia, ia soar diferente. Mesmo que transcrevas um jargão, nunca se transcreve um sotaque ou uma ânsia. Uma angústia. Uma desilusão.
Sentiste essa angústia e a desilusão quando te contavam aquilo que se passou durante esse período? E, eventualmente, por por alguns deles já não fazerem parte do movimento?
Sim, senti muito isso. Exatamente isso. Sobretudo nas Djamal: todo o processo, como a dissolução da banda se deu, onde foi tudo muito evidente. Há momentos em que se estabelecem pontes com o presente para perceber o que é que veio na esteira deles — quais as questões que deixaram e o que está ainda à procura de resposta! Ao longo destes discursos vai-se percebendo a mágoa, um certo deslumbramento porque há uma multinacional interessada num conjunto de pessoas que nem tinham ligação nenhuma à música.
Ainda não referimos muitos dos nomes que entrevistaste. Este audiolivro — que é acessível através de um código QR — conta com entrevistas a Chullage, a General D, Lince, NBC, João Gomes, Ithaka, Ace (Mind Da Gap) ou ainda o realizador Edgar Pêra e o radialista José Mariño. E depois há muitos outros que foste resgatar às memórias do português: o caso de Double V, das Djamal, Jazzy J (dos Zona Dread), Makkas (dos Black Company)… Como é que chegaste a estas pessoas?
Eu sinto que, neste trabalho, há uma espécie de dignificação deste período. Há uma lente nova, porque não é mais um trabalho sobre . Eu estou a falar, sobretudo, da história na cidade de Lisboa nesse período. E este movimento acaba por ser um agente de transformação da forma como hoje olhamos para a cidade: eles foram os primeiros a levantar isso numa prática musical que tem um alcance nas comunidades jovens.
Sentiste que esses artistas e ex-artistas têm orgulho nesse papel de transformação que tiveram?
Se calhar estou a ser pouco modesta: alguns já teriam, mas acho que este trabalho vem dar-lhes uma vontade nova. As minhas questões passam a ser as questões deles para as quais procuram uma resposta. Acho que este trabalho está a criar uma ponte para muita coisa que se está a passar neste momento, porque iniciei-o em 2011 e nunca ninguém tinha “desenterrado” esta gente toda — alguns que nem sequer fazem música hoje em dia. Mas acho que é bom abrir essa ponte, porque o investigador deverá estar na retaguarda, criar debates na sociedade e começar a agir. Eu tentei ir pelo lado invisível para perceber de que forma é que eles ganham protagonismo e se tornam a bandeira identificativa das questões que eles levantam. Hoje olhamos para Lisboa de uma forma “intercultural, miscigenada, em que se fala do outro na sociedade” — é quase um discurso das autárquicas. Nunca se falou tanto de racismo como hoje e a tentar que deixe de ser um tabu. No fundo, estas pessoas abriram espaço para essas questões, colocaram-nas, numa altura em que Lisboa não estava preparada para as receber e contribuíram para a forma como hoje vemos a cidade, a identificamos e definimos. Se calhar nunca pensámos nisto… eu dei por mim a pensar nisto no meu trabalho do Mural Sonoro: eles foram mesmo os primeiros a levantar estas questões no campo da música, a tirá-las do bairro e entram na sociedade civil.
“Acho que este trabalho está a criar uma ponte para muita coisa que se está a passar neste momento. Iniciei-o em 2011 e nunca ninguém tinha ‘desenterrado’ esta gente toda — alguns que nem sequer fazem música hoje em dia. Mas acho que é bom abrir essa ponte, porque o investigador serve para estar na retaguarda e criar debates na sociedade e começar a agir”
E deixaram marca. Ainda há muitos rappers que hoje abordam todas essas temáticas do racismo, da exclusão social, da imigração.
Quando se diz que já não há um rap de resistência é falso. Ele há. Sempre houve. Há um rap que não é de resistência e outro que é!
Depois deste livro, o Mural Sonoro pode despertar outros trabalhos e investigações noutros géneros musicais?
Sim, mas não em questões tão específicas como esta. Mas sinto que há campos da música — em determinados contextos históricos — que ainda estão por aflorar. E há muitas questões, que têm que ver, sobretudo, com políticas culturais que ainda não estão devidamente contextualizadas por falta de literatura nesse âmbito. Ainda há muito trabalho para ser feito, dentro deste recorte de 1950 a 1990.
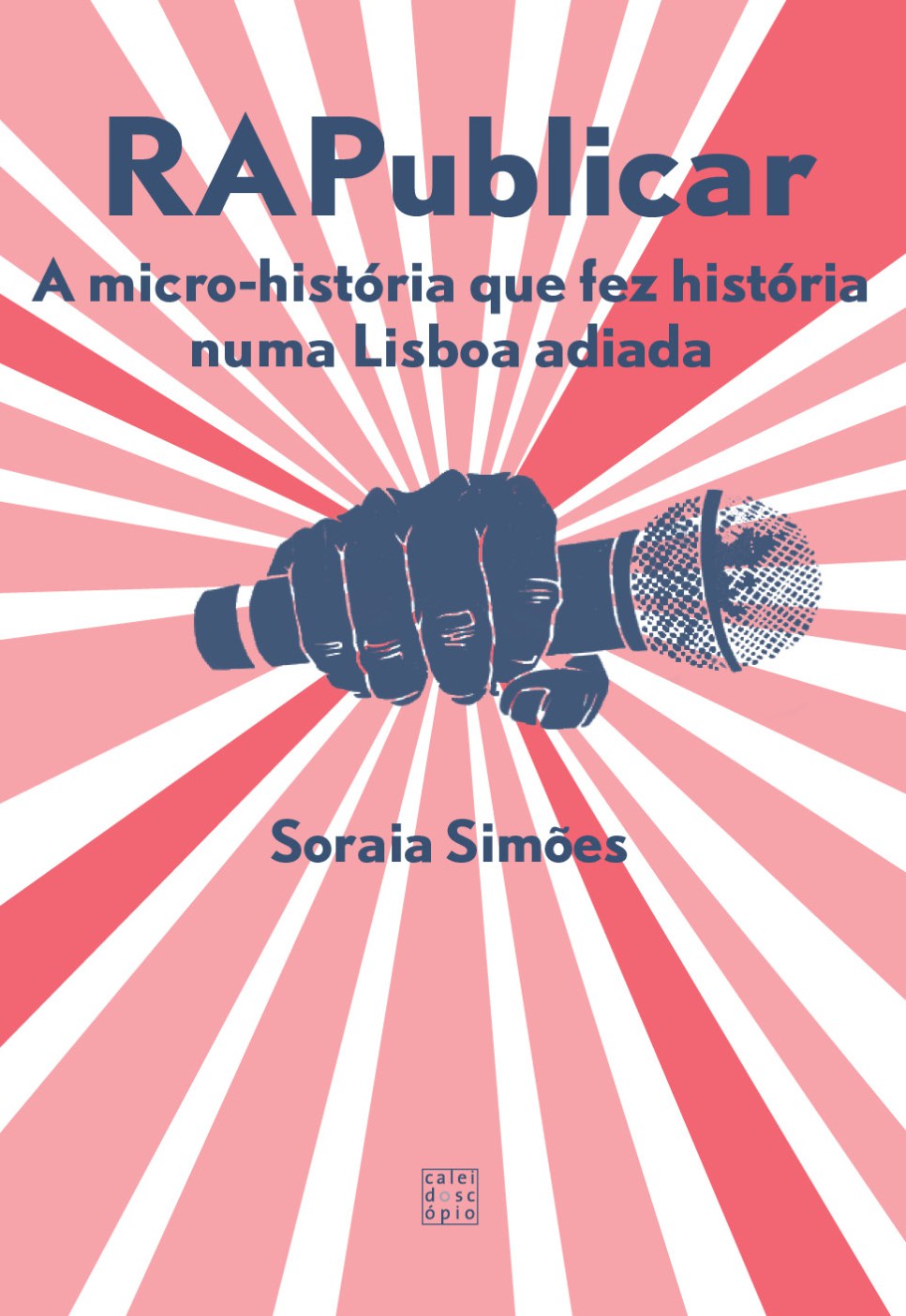
Entrevista: Bruno Martins













